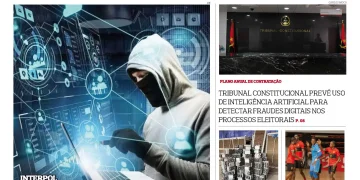O tempo não passa como se conta. Ele acumula-se, infiltra-se e pesa. Não se limita a marcar horas nem a dividir dias. O tempo instala-se no corpo, molda a postura, altera o modo de olhar e de esperar. Em Angola, o presente vive-se menos como instante passageiro e mais como permanência prolongada, quase como uma morada forçada.
É um agora espesso, saturado de passados que não se resolvem e de futuros que tardam em anunciar-se. Viver no presente tornou-se um exercício de resistência, não porque falte vida, mas porque sobra consciência. Consciência do adiamento constante, da repetição, da promessa antiga que continua por cumprir. O tempo já não é percebido como avanço natural, mas como sucessão de dias semelhantes, onde a mudança surge sempre parcial e provisória. O relógio avança, mas o sentido permanece em suspenso.
A expressão era uma vez não aponta apenas para o início de uma história. Aponta para um tempo de crença. Um tempo em que se acreditava que o percurso teria coerência, que a vida obedeceria a uma lógica compreensível e que o esforço produziria consequência. Essa crença foi transmitida como herança simbólica. Pais disseram aos filhos que o tempo recompensa. A escola reforçou a ideia de progressão.
A sociedade repetiu a promessa do futuro. Com o passar dos anos, porém, essa narrativa começou a falhar. Não falhou de forma abrupta. Foi falhando lentamente, quase com discrição. Pequenos atrasos tornaram-se normais. Grandes expectativas foram sendo ajustadas.
O extraordinário foi substituído pelo possível. O possível, pelo aceitável. O aceitável, pelo mínimo. O tempo, nesse processo, deixou de ser esperança e tornou-se cálculo. O cidadão aprende cedo a medir a vida não pelo que deseja, mas pelo que é viável. Aprende a negociar consigo próprio. Aprende a abdicar de certas ideias antes mesmo de as formular plenamente. Não por fraqueza, mas por excesso de lucidez. Há uma inteligência dolorosa em compreender, demasiado cedo, os limites do mundo onde se vive.
O sentido da vida, que deveria emergir do encontro entre desejo e realidade, passa a ser constantemente adiado. Não desaparece, mas fragmenta-se. O cidadão encontra sentido em gestos pequenos, em sobrevivências quotidianas, em conquistas discretas.
O grande sentido, aquele que organiza a existência, permanece suspenso. Vive-se, assim, numa interrogação prolongada. Há dias em que o tempo parece vazio. Não vazio de acontecimentos, mas vazio de significado. Dias em que se cumpre tudo o que é exigido, mas nada do que é essencial. Dias em que a vida acontece, mas não se fixa. Esses dias acumulam- se e produzem um cansaço que não é físico. É ontológico. Um cansaço de existir sem horizonte claro. Os sonhos não desaparecem, mas aprendem a esconder-se.
Tornam- se silenciosos, quase tímidos. Já não se anunciam com entusiasmo, mas surgem como imagens breves, pensamentos nocturnos, desejos que se confessam apenas a si mesmos. O cidadão aprende que expor excessivamente o sonho é arrisca- do. A realidade tem o hábito de ferir aquilo que não consegue acolher. Sonhar passa a ser um acto íntimo, vivido com prudência.
Não se sonha em voz alta. Não se sonha com excesso. Sonha-se com cuidado. A vida ensina que desejar em demasia pode conduzir à frustração e que a frustração repetida conduz ao esvaziamento. Assim, o desejo vai sendo domesticado até caber na estrutura do possível. A finitude manifesta-se muito antes da morte biológica.
Revela-se no cansaço que se instala, na repetição dos dias, na sensação de chegar sempre ao mesmo ponto. O cidadão sente-se finito quando percebe que o tempo avança sem oferecer respostas. Quando compreende que nem tudo será vivido, nem tudo será alcançado, nem tudo será corrigido.
A consciência do limite infiltra-se lentamente, tornando cada gesto mais contido. Há um momento quase imper- ceptível em que a pergunta fundamental se transforma. Já não se pergunta para onde se vai, mas até quando se continua. Nesse deslocamento, a existência ganha gravida- de. Vive-se com maior prudência, com menor expectativa, com aten- ção constante ao que pode ruir.
O futuro deixa de ser horizonte aberto e passa a ser possibilidade frágil, permanentemente ameaçada. Ainda assim, algo persiste. Não como esperança luminosa, mas como insistência silenciosa. Uma força mínima que impede o colapso total do sentido. Talvez seja apenas o hábito de continuar. Talvez seja uma fidelidade íntima à ideia de que a vida precisa significar mais do que aquilo que oferece no momento.
O cidadão permanece mesmo quando não há garantias. Permanece mesmo quando o futuro não responde. Permanece porque de- sistir completamente seria aceitar que o tempo venceu. E aceitar isso seria negar a própria condição humana, que é, apesar de tudo, a de insistir. O fim, quando se anuncia, não encerra a narrativa.
Paira como consciência permanente da fragilidade. Tudo pode terminar sem aviso. Projectos, certezas, convicções. Essa consciência não paralisa por completo. Torna a vida mais lenta, mais atenta, mais grave. Cada gesto passa a carregar o peso do irrepetível. Na trama do presente, o tempo não promete redenção.
O sentido não se impõe como evidência. A finitude não pede licença para existir. Ainda assim, vive- se. Vive-se porque existir é, muitas vezes, permanecer sem respostas. Era uma vez não pertence ao passado distante. Fim ainda não se cumpriu. Entre um e outro, a vida continua a escrever-se, densa, imperfeita, profundamente humana. E talvez seja precisamente nessa incompletude que resida o último sentido possível.
POR: REIS ADRIANO SIMÃO