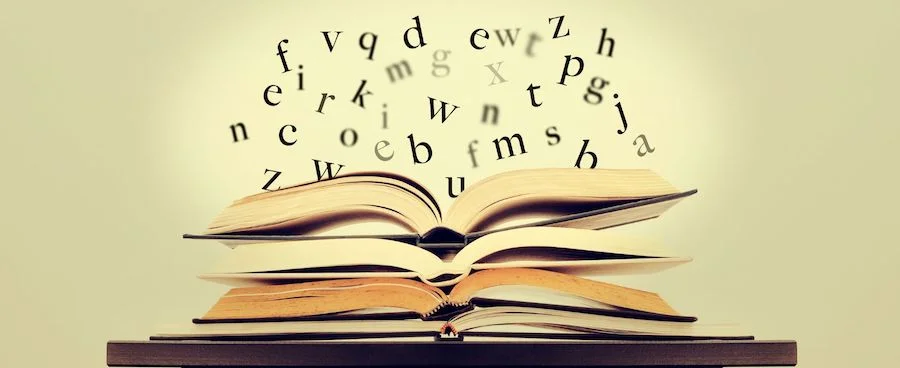O ensino da gramática ocupa, historicamente, um lugar central na escola, especialmente nas aulas de Língua Portuguesa. Contudo, entre o que está prescrito nos documentos oficiais e o que efectivamente se ensina na prática pedagógica, existe uma lacuna que pode ser explicada pela presença de um currículo oculto. Este conceito, discutido por autores como Apple (1999) e Sacristán (2000), refere-se ao conjunto de valores, normas, atitudes e concepções que são transmitidos implicitamente no processo educativo, sem estarem formalmente inscritos no currículo oficial.
Em contexto como o nosso, onde o português funciona como língua oficial, de escolarização e, para muitos, como segunda língua, o ensino da gramática revela tensões entre o prescrito, o vivido e o desejado. Mais do que as regras normativas, a gramática torna-se um espaço de disputa simbólica, no qual se ensinam também valores, preconceitos linguísticos e hierarquias sociais.
Assim, ao perguntar “o que realmente se ensina na sala de aula?”, refletimos não apenas sobre os conteúdos gramaticais, mas também sobre as ideologias que os acompanham. De acordo com os programas de Língua Portuguesa em vigor no ensino angolano, a gramática deve ser ensinada de forma articulada à leitura, à oralidade e à produção textual. A ênfase está na construção de competências comunicativas, e não apenas na memorização de regras.
A gramática é, portanto, apresentada como um meio para o desenvolvimento da expressão linguística, e não como um fim em si mesma. Contudo, na prática, muitos professores ainda recorrem a metodologias tradicionais, centradas na nomenclatura gramatical e na classificação de palavras e orações.
Essa realidade não é exclusiva de Angola. Bechara (2009) já destacava que, em vários países lusófonos, a gramática escolar é marcada pela herança normativa, muitas vezes desarticulada da vida real dos alunos.
Assim, enquanto o currículo oficial recomenda a integração da gramática ao uso da língua em situações comunicativas, na realidade escolar prevalece um ensino baseado na repetição de modelos e na preparação para provas, revelando uma distância significativa entre o prescrito e o praticado.
O conceito de currículo oculto, originalmente discutido por Jackson (1968) e aprofundado por Apple (1999), refere-se aos aprendizados não explícitos que a escola transmite. Trata-se de um currículo paralelo, não escrito, mas fortemente presente na prática docente e nas relações escolares. No caso da gramática, o currículo oculto manifesta-se de diferentes formas:
1. Preconceito linguístico – Ao privilegiar unicamente a norma-padrão, a escola frequentemente transmite a ideia de que as variedades linguísticas locais, como o português popular falado nas zonas periurbanas ou a interferência das línguas nacionais (kimbundu, umbundu, kikongo etc.), são “erradas” ou “menos prestigiadas”. Bagno (2007) critica esse processo, pois cria nos alunos uma sensação de inferioridade linguística.
2. Hierarquia social – O domínio da gramática normativa acaba funcionando como um marcador de distinção social. Alunos que dominam a normapadrão tendem a ser valorizados, enquanto os que falam variedades não padrão são estigmatizados. O currículo oculto, nesse caso, ensina que a língua “culta” é também a língua dos grupos de maior poder social.
3. Formação de atitudes em relação à língua – Ao insistir em exercícios descontextualizados e na correção de erros, o ensino gramatical pode gerar medo, insegurança e até rejeição à língua portuguesa.
Assim, em vez de promover uma relação positiva com a língua, o currículo oculto pode transmitir a ideia de que a gramática é um campo de punição, e não de descoberta.
Por: AndréCurigiquila
Professor