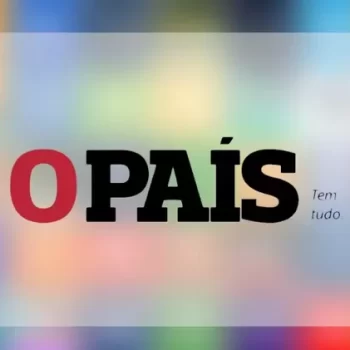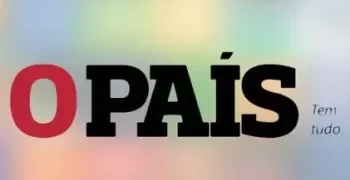A República de Angola, antiga província Ultramarina de Portugal, viu a sua independência em 11 de Novembro de 1975, completando presentemente 50 anos de sua vitória colonial. A sua independência deu-se por iniciativa de vários grupos nacionalistas, posteriormente liderados por três grandes movimentos armados, que despertaram para a luta aberta por sua libertação (Wheeler & Pélissier, 2009).
Hoje, é praticamente usual que se tratou de um processo ardoso e sangrento (Keita, 2021), que parte desde 1961 até o período das negociações para a independência e o fim da guerra colonial, isto em 1974. (Mateus, 2004). Todavia, mais do que apenas apontar para envolvimento de técnicas militares rudimentares ou modernas em conjunto com outros utensílios arsenais, houve igualmente para este alcance, “um toque misto” de duas porcelanas culturais que reintegravam a realidade espiritual dos angolanos que viviam entre os finais do séc. XIX à segunda metade do séc. XX: “A Cruz e o Feitiço”.
Estes, mais do que elementos espirituais que representam culturas plenamente inconciliáveis ou antagónicas entre si, representaram naquele contexto esperança para os angolanos, auxílio, meio de guerra, e principalmente garantia de que as principais divindades que eles conheciam sancionavam a suas causas de lutas, lhes e garantia de completa vitória.
Assim, a cruz como símbolo de vitória para os cristão, objecto sagrado, e expressão de sua religiosidade, aparece aqui para representar o envolvimento de entidades cristãs na causa dos angolanos, que não só abençoavam os guerrilheiros durante as guerras, como igualmente faziam dos espaços de culto (templos), verdadeiras unidades de preparo militar e esconderijos para os independentistas.
O “Feitiço”, embora sendo um nome vulgar que quase nada representa e se enquadra a religiosidade africana e particularmente a Bantu, aparece aqui para expressar vulgarmente as práticas mágicoespirituais usadas como elementos de preparo militar, inspiração, fortalecimento, segurança durante os combates na luta pela independência.
É assim que Foguetão (2007), ao falar sobre a sua experiência em Bembe nas vésperas do ataque independentista de 15 de Março de 1961 comenta que se assistiu «os preparativos do ataque. Eu, pessoalmente, não entendia o que se estava a passar de facto; até porque tais preparativos eram acompanhados de cânticos, rezas, orações e até de alguns rituais do tipo dos feitos por curandeiros e feiticeiros. (pág. 32) Sobre isso, Malinowski comenta que de modo comum, a magia e as práticas espirituais tendem a prevalecer “quando confrontados com situações além controle” (apud, Bortolame, 2024), ou seja, diante de sérios desafios, os homens tendem a invocar o espiritual a eles possível e disponível, seja qualquer que for a sua natureza.
Sendo isso verdade, Augusto Bengue, por exemplo, confessa que “Simão Toco levantou e pediu aos espíritos. ”Pela causa dos povos de África (Lopes, 2008). Ora, o que seria isso senão uma forma de rito cristão e tradicional em que se buscava o apoio tanto dos espíritos anjelicais como o dos mortos? Nesta linha, Batsikama (2022) afirma que tanto Augusto Bengue como Manuel das Neves foram as autoridades “espirituais” muito relevantes durante o início da luta, pois que, enquanto o segundo, sendo padre, orava e suplicava pelos fiéis, o primeiro os consagrava com actos ritualísticos e banhos de «imunização» contra balas (disparos).
A Igreja Católica, com destaque para o Cónego Manuel das Neves, interveio não só no desencadear da preparação e consciencialização para a luta, mas igualmente na obtenção de mapas da cidade onde se assinalaram os pontos a atacar, favoreceu a compra de catanas, de que ‘algumas guardou atrás do altar-mor da Sé’ e interveio na preparação de cifras e sua distribuição entre os nacionalistas para o 4 de Fevereiro (André Mendes de Carvalho, jornal A. 2023).
Pacavira (2003) destaca a existência de uma junta entre os MINA, que passou a ser conhecida como o «movimento dos pauzinhos» que actuava dando “baptismo/banhos com vários tipos de amuletos, pauzinhos e óleos misturados com essências vegetais da medicina tradicional.”
Esta prática “supunhase tratar de uma garantia divina e segura para o suporte das acções a desenvolver, tornando-os invisíveis e invulneráveis em caso de qualquer acção ou reação das autoridades coloniais.” (pág. 97). Por outra, Apolónio Graciano afirma que as entidades religiosas abrigavam guerrilheiros por muitos dias, dando a eles alimentos e ânimos. (Edicções Novembro, 2023).
Destas acções, participaram várias igrejas, algumas já destacadas anteriormente como Católica e Tocoísta, e outras em menção como a Adventista, Metodista, Congregacionais e Baptista. É assim que Dom Daniel Gomes Junqueira e André Mendes de Carvalho, afirmam também que “é graças á igreja que uma grande maioria dos angolanos desprotegidos chegou a graus académicos superiores.
Foi um factor de formação e de libertação do homem, contra a dominação colonial.” (Jornal de Angola, 2023). Portanto, vê-se então que o cristianismo (suas práticas e fé), e o “feitiço” estiveram em simbiose dupla para o alcance da independência nacional de forma inegável e clarividente.
Enfim, importante realçar que o objectivo deste artigo não é fazer um juízo de valor e estratificar estas crenças (ou uma entre elas), como recurso religioso positivo e recomendá-las aos fiéis.
Outrossim, tratou-se de um ensaio científico, de carácter mormente descritivo, com vista a demonstrar que, embora práticas genericamente opostas, a História de Angola viu-se em determinada altura: “entre a cruz e o feitiço – toque misto para o alcance da independência.”
Por: Sampaio Herculano
Finalizado em História, UAN