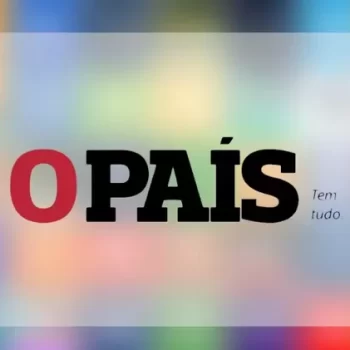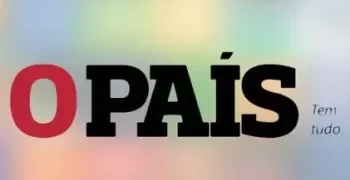Até que ponto o desejo de mostrar o que vivemos não nos faz viver menos o que mostramos? A contemporaneidade instituiu uma verdadeira metamorfose da felicidade: já não se manifesta como um modo de ser enraizado na interioridade, mas como uma narrativa pública, cuidadosamente editada e exibida. Ser feliz, já não significa simplesmente sentir, mas também mostrar o sentir. Hoje, pode-se dizer que, em muitos casos, existimos na medida em que somos vistos.
A visibilidade tornou-se o novo critério ontológico do real. Publicamos sorrisos, jantares, viagens, conquistas: gestos simbólicos de pertença a um imaginário colectivo de sucesso. A esfera do íntimo dilui-se na lógica da exposição.
Cada “gosto”, partilha ou comentário funciona como sinal de pertença e afecto, quase como se o amor pudesse ser traduzido em reacções digitais. Talvez essa seja, afinal, uma nova linguagem do sentir, uma forma contemporânea de expressar afecto num mundo mediado pela tecnologia.
As redes sociais erguem-se como a nova “Ágora” da modernidade – um espaço onde o homem contemporâneo procura ser visto, ouvido e reconhecido. Contudo, o diálogo, a partilha e o debate cedem, muitas vezes, lugar à performance – entendida aqui como encenação social, orientada pela necessidade de visibilidade e aprovação. O sujeito, cindido entre o que é e o que exibe, busca no olhar alheio não apenas confirmação, mas legitimação da própria existência.
Neste cenário, busca-se reconhecimento antes de auto-conhecimento, aplauso antes de sentido. Há, contudo, algo de profundamente inquietante neste processo: se precisamos provar que somos felizes, estaremos, de facto, a sê-lo? Ou estaremos apenas a representar uma felicidade que, no fundo, nos escapa? Talvez devamos ainda questionar se é a exposição da felicidade que corrompe, ou se é a nossa necessidade de exibi-la que denuncia o seu vazio interior.
Não se pode negar, porém, que o olhar do outro pode intensificar a nossa alegria, pois somos seres de relação (zoon politikon). Mas, quando esse olhar se torna condição do sentir, converte-se em dependência.
Na Ética a Nicómaco, Aristóteles define a felicidade (eudaimonía) como o fim supremo da vida humana — aquilo que é desejado por si mesmo e nunca como meio para outro fim.
Para o filósofo, a felicidade não é um estado emocional passageiro, mas uma acção da alma conforme à virtude (areté), guiada pela razão (logos). Ser feliz é viver de modo racional e moralmente excelente, praticando o justo meio (mesótes), esse equilíbrio prudente que evita tanto o excesso como a carência. Contudo, no nosso tempo, essa felicidade ética transformou-se em representação social, medida pelas métricas da visibilidade.
O valor da experiência deslocouse do interior da consciência para o exterior da exibição. Todavia, é importante reconhecer que nem toda expressão pública da felicidade – o que muitos filósofos contemporâneos preferem designar por alegria – se reduz a mera aparência. Mostrar momentos de alegria não é, em si, um mal, pois o gesto pode brotar da gratidão, da partilha ou do desejo legítimo de comunhão.
O problema começa quando o acto de mostrar substitui o próprio viver, e o valor do que se vive passa a depender da aprovação alheia. Aristóteles advertiria que, nesse ponto, o homem perde a sua autarkeia — a autossuficiência, a capacidade de bastarse a si mesmo, de ter em si o suficiente para viver bem (feliz), sem depender excessivamente de factores externos.
O indivíduo que perde a autarkeia abandona a sua natureza racional e ética, tornando-se escravo do acaso e da opinião alheia. Aquele que precisa de aplausos para sentir-se pleno já não é senhor de si mesmo: age, não por deliberação racional (prohairesis), mas por necessidade de visibilidade. Entretanto, a visibilidade não é, por si, inimiga da autenticidade. Em muitos contextos, sobretudo africanos e lusófonos, tornar-se visível é um acto de resistência: onde antes houve silêncio, exibir-se é recuperar a dignidade de existir. A questão não é rejeitar o parecer, mas reconciliá-lo com o ser.
É nesse horizonte que nasce a “estética da verdade”, uma forma de presença em que o ser e o parecer se iluminam mutuamente. Não se trata de expor o íntimo, mas de alcançar coerência entre o visível e o vivido. É, em essência, uma ética da forma: “parecer sem trair o ser, ser sem negar o parecer”.
Nessa estética, a imagem não substitui o real, antes a prolonga, como extensão luminosa de uma verdade interior. Portanto, mostrar pode ser legítimo, desde que a partilha nasça da autenticidade e não da necessidade de aprovação. O equilíbrio, e não o retraimento, é o caminho da virtude.
Nessa harmonia entre ser e parecer reencontramos o sentido mais profundo da eudaimonía: uma vida que se basta a si mesma, mas que, ao partilhar-se, não se corrompe — antes ilumina. O humano já não é apenas presença física, mas também fluxo, relação e linguagem.
Ser contemporâneo talvez signifique, afinal, aprender a existir entre imagens e afectos, entre corpo e projecção, cultivando o justo meio (mesótes). E aqui se abre a questão que ficará para a próxima reflexão: se a felicidade, na era digital, se tornou também uma imagem, como distinguir o rosto da máscara? Talvez essa seja, afinal, a tarefa mais urgente do nosso tempo — reaprender a reconhecer o real sob o brilho das aparências.
Por: Carlos Pimentel Lopes