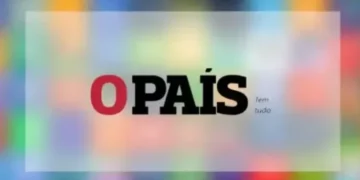Num tempo em que as exigências da vida moderna comprimem o espaço afectivo da família, muitos pais vivem a dolorosa experiência da ausência dos seus filhos. Estes, ocupados com o casamento, o trabalho, os filhos e as lides domésticas, tornamse progressivamente ausentes, mesmo que permaneçam vivos e presentes em outros contextos sociais.
A ausência não decorre da falta de amor, mas da reorganização das prioridades que negligencia, quase sem perceber, o vínculo essencial com os que nos deram a vida. Há uma ilusão comum: a de que se poderá compensar a ausência afectiva com ajudas materiais, justificações racionais ou promessas futuras. No entanto, o tempo perdido no afecto raramente se recupera.
Os pais não desejam apenas apoio, mas presença; não esperam esmolas emocionais, mas vínculo vivo e activo. A dor que se instala é silenciosa, mas persistente. Não raras vezes, esses pais sofrem de solidão emocional profunda, vivendo do eco de memórias que não se renovam.
O mais grave é que este comportamento tende a repetir-se. Os filhos que hoje abandonam afectivamente os seus pais serão, amanhã, os idosos esquecidos pelos seus próprios filhos. O ciclo da ausência repete-se de forma quase cega, como se não houvesse memória nem reflexão.
Educar para o cuidado intergeracional é, pois, uma urgência ética. Implica ensinar, desde cedo, a importância do tempo partilhado com os mais velhos, o valor das histórias, o consolo do silêncio conjunto. Os ritmos diferentes entre pais e filhos acentuam a separação.
Os idosos vivem um tempo lento, silencioso e expectante. Os filhos adultos vivem um tempo rápido, preenchido, fragmentado. A aproximação só será possível com um esforço consciente de adaptação: não é o tempo cronológico que importa, mas a qualidade do encontro.
Os pais não exigem horas, mas gestos. Um telefonema, uma visita breve, uma refeição partilhada bastam, muitas vezes, para restaurar a alegria. Histórias como a de José Tchambasuku, um pai dedicado que agora vive sozinho e esquecido, contrastam com outras como a de Laurinda Tchinosole, uma avó activa na vida dos netos e presente nas decisões familiares.
Esta diferença não depende do acaso, mas da postura dos filhos. Incluir os avós na dinâmica da casa, confiar-lhes tarefas afectivas e escutar a sua sabedoria reverte em bem para toda a família.
A criança que cresce perto do avô cresce mais enraizada, mais sensível, mais consciente da continuidade da vida. A família é mais do que um agrupamento de pessoas ligadas pelo sangue. É uma comunidade espiritual que transmite valores, memórias e identidade.
Quando se rompe esse fio com os mais velhos, perde-se mais do que afecto: perde-se o sentido. Por isso, é preciso promover uma cultura da presença, onde os mais velhos sejam honrados, os netos instruídos na gratidão e os filhos reconciliados com a sua origem.
É fundamental criar práticas concretas: agendas familiares com encontros regulares, inclusão simbólica e afectiva dos avós nas decisões do lar, e uma pedagogia da ternura nas escolas e igrejas. Os filhos devem reaprender a cuidar, a escutar e a honrar.
E os pais, mesmo envelhecidos, devem sentir-se parte e não resíduo. No fim, a vida devolve a cada um aquilo que semeou. Que a geração de hoje, ao cuidar dos seus pais, ensine os filhos a fazer o mesmo. Que o ciclo da ausência seja quebrado pela força da presença. E que, na hora derradeira, não reste o remorso, mas a memória viva do amor partilhado.
Por: JOÃO BAPTISTA KUSSUMUA